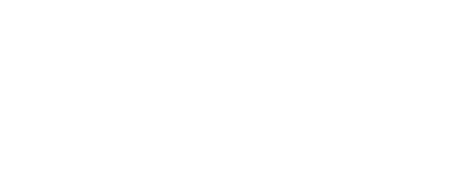Nem monstro, nem lixo: Pastor Marcelo
O amor levou Marcelo Loreno a deixar o PCC, por quem matava e morria, e abraçar uma vida longe do crime. Mas ele sofre com a falta de oportunidades: ‘Se a sociedade fecha as portas, o crime espera de braços abertos’
Claudia Belfort, especial para Ponte Jornalismo
Os 23 anos em que ficou preso, 15 dos quais como integrante da organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), não embruteceram o coração de Marcelo Loreno, 47 anos. Sentado à cabeceira da mesa do belo apartamento onde vive com a esposa e a filha, na zona leste da cidade de São Paulo, seus olhos ainda marejam quando lembra do dia em que foi abandonado pela mãe, na praia de Santos, litoral paulista.
Marcelo, que chegou a se achar um monstro dentro do sistema prisional, além fazer alguns bicos como pintor, atua como voluntário junto a pessoas em situação de rua no Pátio do Colégio e na Praça da Sé, centro da cidade, onde distribui sopão e café. Aos domingos sai de casa às cinco de manhã, para visitar dependentes químicos — muitos com problemas com a Justiça — de áreas vulneráveis nas quebradas paulistanas, levando pão, café, leite e a palavra divina, que orienta sua vida — primeiro como membro da Igreja Mundial do Reino de Deus e hoje na igreja que ele próprio fundou.

A iniciativa de Marcelo une duas pontas muitos frágeis da sociedade e ao mesmo tempo atua numa lacuna do Estado. “Os grupos mais vulneráveis hoje são a população carcerária e as pessoas em situação de rua, e são as que mais precisam de políticas públicas”, afirma Sidney Teles, articulador da Raesp (Rede de Apoio ao Egresso), organização carioca que reúne 15 instituições parceiras voltadas à inserção social do egresso. “Não existe uma política pública nacional de assistência à pessoa egressa. As pessoas saem, ficam sem perspectiva e acabam reincidindo”, diz Mariana Leiras, assistente social de uma das fundadoras da Raesp.
O abandono
Era 1981 e Roseli Loreno havia ido buscar o filho, que morava com os avós em São Paulo, dizendo-se casada e recuperada do alcoolismo. Menos de uma semana depois de ter levado o menino ao novo lar, em Santos, ela saiu com Marcelo e mandou-o pedir esmolas nos restaurantes da praia, enquanto o esperava do lado de fora.
“Quando eu voltei com as notinhas e as moedinhas na mão e não vi ninguém, meu olho encheu de lágrima”, lembra Marcelo. A partir daquele momento, o menino ficou sozinho no mundo, numa cidade estranha, onde não conhecia ninguém e com toda a experiência de vida de uma criança de 7 anos de idade. Nunca mais viu Roseli, sabe apenas que morreu como indigente, em 1998. “Ela me espancou, me deu três facadas, mas sempre amei minha mãe. Hoje entendo que era o álcool que atuava na vida dela, porque careta ela era maravilhosa”, diz.
Além de Marcelo, Roseli teve mais três filhos. Uma menina, que hoje mora em Minas Gerais, e outros dois que foram dados por ela para outras pessoas criarem. De um deles, Marcelo só tem a informação de que foi entregue a uma senhora chamada Zenaide, do bairro Cocaia, em Guarulhos. Fora batizado como Vagner, por Roseli, mas teve o nome trocado por Rafael pela nova mãe.

O abandono inaugurou a vida de adulto de Marcelo. “Tive que me virar para sobreviver.” Pedia esmolas e relatava o que havia lhe passado para quem se dispusesse a escutá-lo. “Eu sabia meu endereço em São Paulo, contava minha história para as pessoas, mas ninguém acreditava”, lembra. Dormia onde dava. Algumas vezes sob marquises de prédios ou à beira de monumentos da cidade.
“Mas eu era diferente, eu escovava os dentes, tinha meu sabonete e procurava estar sempre limpo.” Por essas características é que ele acha que arrumou um bico de empacotador numa drogaria da cidade, onde um dos funcionários se sensibilizou com a história da criança e num dia de folga a levou para São Paulo. Um ano depois de abandonado, Marcelo voltava para a casa dos avós.
A reconciliação não durou muito. A família vivia em situação de extrema pobreza. Os avós catavam papelão, comiam pão velho que conseguiam em padarias e compravam pelanca de carne no açougue para fazer torresmo. Além do mais, o espancavam. “Não consigo entender até hoje porque tanta brutalidade comigo”, reflete. Enfeitiçado pela liberdade das ruas, o menino fugiu de casa, sem ter a menor ideia de que a vida livre seria nada duradoura.
Eram os últimos laços familiares de Marcelo que se rompiam. “Meu pai não conheci. Venho de uma família que boa parte dela era bandido. O que eu lembro de minha família é uma vez um monte de policial invadindo o quintal de casa para procurar um tio meu, que morreu no crime”, recorda.

Passou a viver nas imediações do Jardim Marília, na zona leste da capital. No começo guardava carros para levantar um dinheirinho. O menino, então com 10 anos, era esguio e esperto, e logo chamou a atenção de criminosos. “Comecei a conhecer coisas erradas, a conhecer o crime”, lembra. “Você está tomando conta de carro, as pessoas não te dão nada, vem um com uma grana e pede para você sair fora para ele roubar o toca-fita. Qualquer cinco ou dez reais para uma criança é uma fortuna”, conta.
O fazer vista grossa para furtos em carros evoluiu para outros delitos, o garoto era bom no que fazia e foi levado para morar com um criminoso. O cuidado tinha um custo, precisava passar por janelas de carros e casas para abrir caminhos a furtos. “Ele era um cuidador meu, mas eu tinha que roubar para ele, e o que eu roubava era ele quem administrava e [ele] me roubava também. Aí você vai aprendendo as maldades da vida,” revela.
Marcelo foi crescendo e de coadjuvante passou a ser protagonista de assaltos, especialmente as chamadas saidinhas de banco. Entre os 12 e os 18 anos, teve seis passagens pela antiga Febem (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor), atual Fundação Casa. Só que voltava sempre para a família do crime e reincidia.
“A família, quando ela existe, pode desempenhar uma importante função social. Ao acolher o indivíduo, dá a ele a possibilidade de participar novamente de um grupo e de tê-la como referência. Esse acolhimento do egresso, que ocorre de maneira incondicional devido à relação parental, pode ser de altíssimo valor e decisivo no tipo de trajetória que ele irá construir, a partir desse momento”, escreve Paulo César Seron, doutor em psicologia social pela USP (Universidade de São Paulo), em sua tese de doutorado Nos difíceis caminhos da liberdade: estudo sobre o papel do trabalho na vida de egressos do sistema prisional. “Até hoje, com 45 anos eu sinto falta de um pai, de uma mãe, de dizer a palavra pai. Eu não tive esse prazer na infância”, lamenta Marcelo.

Aos 18 anos, foi preso como adulto pela primeira vez, também numa saidinha de banco. E quase foi morto, não fosse a intervenção da própria vítima do assalto. Ele foi pego por integrantes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), a tropa mais mortal da Polícia Militar do Estado de São Paulo. À vítima, segundo Marcelo, os policiais teriam dito para ela não se preocupar porque ele “já era” e que iam se livrar dele “para nunca mais incomodar ninguém”. Ainda de acordo com Marcelo, a vítima reagiu à intenção dos policiais e falou que o caso tinha que ir para a delegacia, o que acabou acontecendo. “A vítima que eu assaltei salvou minha vida”, conta. Ficou dez meses preso. Foi absolvido, Marcelo não lembra por que.
Ainda em 1992, voltou a ser preso, dessa vez pegou 10 anos, acabou ficando 23. Entre os 18 e os 41 anos de idade, Marcelo ficou apenas 2 meses e 25 dias na rua. Isso porque havia fugido da Penitenciária de Marília, em 2001, onde cumpria pena no regime semiaberto e não voltou de uma saidinha de Natal. Em março de 2001, foi recapturado após metralhar o Fórum de Itaquera, num dos atentados contra órgãos públicos promovidos pelo PCC, do qual já era integrante.

No episódio foi salvo de ser morto novamente por quem menos esperava. Após o atentado contra o Fórum, Marcelo e um comparsa, que fugiam de moto, bateram de frente com uma viatura da Polícia Militar, com policiais recém-formados, também chamados de “asps” (aspirantes). “Quando os veteranos chegaram, eles começaram a brigar com os asps porque eles não haviam nos matado e ficaram discutindo quem iria acabar com a gente”, conta. Com a aglomeração de gente no entorno da cena, os policiais desistiram e levaram Marcelo e seu parceiro para a delegacia. “Minha família era o crime organizado, por ele eu matava e morria”, diz.
Por conta de sua filiação ao PCC, teve que cumprir tarefas difíceis, como matar um companheiro de cela que havia montado uma quadrilha paralela à facção. “Esse cara que eu matei, eu não falo isso com alegria, eu falo com tristeza, porque ele era muito meu amigo, esse cara era igual um irmão pra mim. Só que veio o salve [ordem superior da facção] para matar,” conta. Segundo ele, o salve para o assassinato do amigo foi um teste do Comando à fidelidade de Marcelo. “Até hoje eu oro por esse cara”, diz e se emociona ao lembrar da cena. “Não tem o que falar e o cara morrendo ali, eu chorando, eu dizendo ‘eu te amo,cara’, e ele disse ‘se você me amasse, você não faria isso’. Eu falei ‘meu, eu não posso pagar pelos seus erros, eu tenho um sonho’. Eu não usufrui de nada, meu.”
“Será que eu também tô virando um monstro?”
Apesar de só ter entrado no PCC no ano 2000, as relações de Marcelo com a facção criminosa remontam à época da sua fundação. Ele esteve preso no Anexo do Centro de Reabilitação Penitenciária de Taubaté, o Piranhão, onde o PCC se originou em 1993, e para onde iam presos de alta periculosidade. Foi contemporâneo de Edu Cara Gorda, o General, um dos fundadores da organização. “Lá só tinha monstro”, conta. “Era cara que tinha matado com 75 facadas, outro que tinha arrancado a cabeça de um e escrito palavras com sangue na parede…” conta. “Aí me perguntei: será que eu também tô virando um monstro e não me dei conta? E na verdade eu já era um monstro e não sabia.” lamenta. “Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu fui considerado um lixo do sistema penitenciário”, diz. “Consegui entrar no inferno, sobrevivi e saí.”
Não foi com um monstro, nem com um lixo que a então bacharel em direito, hoje advogada, Cíntia Braga Cruz, então com 26 anos, conversou, no dia 27 de março de 2006, quando atendeu por acaso o telefone da advogada de Marcelo, que no momento dirigia. A química foi imediata. Comunicativo, Marcelo a convenceu a passar seu número de telefone a ele e durante dois meses os dois trocaram cartas e telefonemas.

Isso até que, no Dia das Mães, Cíntia foi visitar Marcelo como sua namorada. O encontro foi marcado pela ansiedade de ambas as partes. Dela, pelo ineditismo da situação e dele pelo que estava prestes a acontecer. Era 14 de maio e Marcelo estava designado a fazer a cadeia de Araraquara “virar” naquele dia. O primeiro encontro real deles foi marcado não pelo romantismo, mas por uma rebelião, que tinha como um dos líderes o próprio Marcelo. “Eu sabia que era para virar a cadeia, sabia que ela vinha e eu com o coração partido sem poder dizer nada para ela”, lembra. “Não deu 10 minutos que adentrei na unidade e a rebelião começou, gritaria, quebra-quebra, vi coisas que nunca mais vou esquecer”, lembra Cíntia. “Eu me perguntava, qual o propósito dele de me levar para ver tudo aquilo? Mas não fui vítima de nada, eu fui lá porque eu quis”, diz, categórica. Cíntia ficou numa cela até o dia seguinte enquanto via o namorado ir e vir durante a rebelião. Para negociar o fim da revolta, os presos exigiam que seis celulares fossem entregues aos líderes do PCC, em Presidente Venceslau. O motim só terminou com a entrada do Batalhão de Choque da PM no dia seguinte.
A ressureição
A família de Cíntia, que nem chegou a saber dessa rebelião, rejeitou imediatamente a relação. “Eu não concordei, a família inteira foi contra”, conta dona Maria Nanci Braga, 78, mãe de Cíntia. “Ninguém quer ver uma filha namorando um presidiário. Ainda mais ela que foi criada como uma princesa.” Marcelo só foi aceito pelos familiares da esposa durante uma reunião na véspera de Natal do mesmo ano em que ele ganhou liberdade. “Ele nos falou do propósito dele e a gente se emocionou. Hoje é como um filho para mim”, diz dona Nanci. “Marcelo foi merecedor da aceitação de minha família e o fator principal foi sua transformação por completo. Eu só fui um instrumento de Deus, uma espécie de anjo, para plantar valores na vida dele”, conta Cíntia.
E foi com seu anjo redentor que Marcelo casou no dia 30 de março de 2019, numa cerimônia cercada de amigos, flores, músicas e muita fé, numa chácara em Ribeirão Pires, na Grande SP. A festa foi não apenas digna do amor de ambos, mas uma celebração à ressurreição social do noivo.

O romance entre Marcelo e Cíntia, no entanto, por pouco não foi para frente. Por conta do episódio de Araraquara, ele foi transferido para a penitenciária de Presidente Venceslau 2, a 610 quilômetros da capital, e não queria que a namorada se submetesse a longas horas de viagem para vê-lo. Também porque achava que só sairia do sistema carcerário morto. Cíntia persistiu e o visitou pelos nove anos seguintes todo final de semana. Eram cerca de 14 horas dirigindo, ida e volta, para apenas duas horas de visita.
“Eu dizia para ela: ‘vai cuidar da sua vida’. Já tinha aceitado que minha sina era morrer na prisão”, lembra Marcelo. “Foi ela quem insistiu, que disse que ia me ajudar a construir uma nova vida. Ela é a base de toda minha transformação”, confessa. “Eu tinha convicção que ele era o homem de minha vida, com todos os altos e baixos, e seriam muitos baixos, que teríamos pela frente”, completa Cíntia.
Essa falta de perspectiva de Marcelo, essa sensação de sentença eterna, é compartilhada com outros reclusos. “Um dia um preso falou para mim que não se investe em nada com vistas à promoção social da pessoa que está presa porque eles acham que os presos não sairão de lá vivos”, diz Teles. “As pessoas hoje no sistema prisional são sepultadas vivas”, afirma. “Por isso é fundamental que as políticas de inserção do egresso na sociedade comecem ainda dentro do sistema”, completa.
Mas, dentro do sistema penitenciário paulista, Marcelo só se afundou ainda mais no crime. “Essa história de trabalho nas penitenciárias, poucas dão essa oportunidade para o preso em São Paulo. Que eu conheço só tem em Pirajuí 1”, acredita. “Se eu tivesse trabalhado, estudado, eu não estava nessa situação de hoje. Faz quatro anos e pouco que eu estou na rua e ainda não sou nada”, diz Marcelo, que ainda não conseguiu arrumar um emprego fixo.
Além do preconceito da sociedade, ele ainda enfrenta o problema da falta de escolaridade. Quando foi morar nas ruas, tinha cursado apenas até a 1ª série do ensino fundamental, ciclo que atualmente está concluindo pela modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Marcelo até chegou a ser contratado como estoquista de uma loja na Rua 25 de março. Ao final do período de experiência, no momento da contratação efetiva, a dona do estabelecimento pediu-lhe o título de eleitor. Como ele ainda estava em liberdade condicional, não tinha o documento — o condenado no Brasil perde os direitos políticos, por isso não tem título. “Quando eu falei que eu tinha pendências com a Justiça, eles me mandaram embora”, lembra. “A sociedade precisa aceitar os egressos, porque, se ela fecha as portas, o crime está lhe esperando de braços abertos”, diz.
Desde que ganhou liberdade, em 2015, Marcelo praticamente só fez trabalhos temporários. Mais de 20, segundo suas contas. “O que você consegue geralmente é bico, o que tem muito é atravessador, aproveitador, é para trabalho informal, paga pouco, não registra. Se não tenho uma base firmada em Deus, dá vontade de desistir”, diz. “Mas Deus é tudo”, completa.