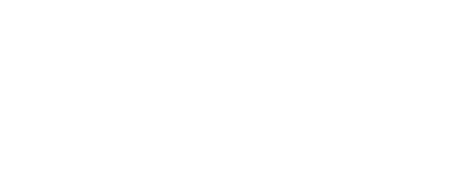Alysson Matheus, o filho pródigo
Branco e filho de empresários, Alysson foi enquadrado como “tráfico privilegiado” e, na prisão, teve de enfrentar as normas locais para ser aceito como homem gay. Hoje, receia os efeitos do cárcere em seu futuro: “Será que vou conseguir ou vai tudo me empurrar para o crime novamente?”
Claudia Belfort, especial para Ponte Jornalismo
Cinco anos depois de ter partido em busca de seus sonhos, Alysson Matheus Oliveira Silva, 25 anos, à casa retornou. Primogênito dos seus pais, havia um ano estava preso. Antes ele tinha trabalhado na noite como performer, se envolvido com entorpecentes e largado a faculdade de piano. O filho pródigo ganhou quarto, cama quente e limpa, um emprego e a compaixão dos pais. Carrega consigo, porém, várias inseguranças sobre seu futuro. “Será que eu vou conseguir fazer o que eu quero ou vai tudo me empurrar para o crime novamente?”, reflete.
Afora os perrengues que passou no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros e depois no CDP do Belém, ambos na capital paulista, entre os setembros de 2017 e 2018, pode-se dizer que Aly é um jovem de sorte. Sorte de ter nascido numa família branca, de classe média, que lhe deu escola particular, aulas de música; sorte de estar dentro dos padrões de beleza da sociedade contemporânea, com seus olhos claros, amendoados e cabelos levemente ondulados. Não fosse a barba e o bigode, adornando seu rosto de porcelana, teria feições andróginas, o que lhe confere algo de enigmático.
Leia mais: Depois das Grades – Andressa Ruiz: ‘Eu posso apertar a sua mão?’
Sorte também de ter cometido seu crime depois que o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que não é hediondo o “tráfico privilegiado” — quando o agente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Dos quatro anos e 10 meses a que foi condenado, ficou cinco meses em regime fechado, enquanto aguardava julgamento, depois do qual foi direto para o semiaberto, no CDP do Belém, zona leste da cidade. Um benefício aplicado a apenas 17,06% de toda a população carcerária brasileira, de acordo com o Depen (Departamento Penitenciário Nacional), do Ministério da Justiça.

O tráfico de drogas, segundo dados do Depen, é o segundo principal motivo pelo qual as pessoas privadas de liberdade foram condenadas ou aguardam julgamento. A pena para o crime varia de 5 a 15 anos de reclusão. Isso, no entanto, depende de quem julga e de quem cometeu o crime.
“Pelo fato de eu ser branco, de eu não ter antecedentes criminais, enfim, tudo isso no fundo importa como o juiz vai te julgar. Quem você é na sociedade vai determinar quanto tempo você vai ficar lá dentro, o quanto você é ou não culpado, o quanto você é ou não vítima de alguma coisa”, afirma Aly. Faz sentido. Segundo a presidenta do Ibccrim (Instituto Brasileiro para Ciências Criminais), Eleonora Nacif, um jovem branco de classe média tem muito mais chances de receber uma sentença mais leve que um negro da periferia, porque há um processo de identificação, de empatia entre o sentenciante — que geralmente é branco e de elite — e o réu. No Brasil, 80% dos magistrados são brancos, segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça.
“Eu acho que o juiz percebeu que ele era um laranja, porque ele confessou tudo, falou tudo, não quis esconder nada, não fez o papel de um traficante”, relata o pai de Aly, V.C.S (ele a esposa pediram para seus nomes completos não serem revelados). “Agradecemos a Deus por uma sentença tão pequena diante da gravidade [do crime], por ser internacional”, completa.

“Logo de início já poderia se verificar que a gravidade [do crime] era muito grande, porque ele foi pego em flagrante com as drogas num vôo internacional”, conta o advogado que atendeu Aly, Natan Gonçalves Escanhoelo. “Então a expectativa que ele fosse condenado era de 100%”, completa. “Mas as condições dele eram favoráveis para que ele fosse condenado no tráfico privilegiado, com isso ele conseguiu uma redução de pena muito grande”, conta.
Aly teve uma educação rígida, não podia sair para brincar na rua e sua vida girava em torno da família, que é evangélica, da escola e da Igreja Congregação em Cristo, onde aprendeu música e chegou a tocar violino. Seus pais são empresários, têm uma loja de aluguel de roupas de festa em São Miguel Paulista, na zona leste. O negócio começou num canto do salão de beleza que tinham e hoje ocupa três andares de um prédio. Dizem com orgulho terem começado de baixo, travado muitas lutas para conquistar o que têm e tentam passar esse exemplo para Aly e os outros dois filhos mais novos. Vivem numa espaçosa casa, no bairro Pimentas, em Guarulhos (Grande SP), com uma SUV na garagem e um belo piano de parede na sala de estar, no qual Aly pode tocar sempre que quiser.

O rigor na educação do jovem nunca enrijeceu suas aspirações. Desde muito jovem ele quis ser artista. Era uma criança tímida, de poucos amigos e sofria bullying na escola por parte de colegas que o chamavam de “veadinho”. Esse período na escola foi sofrido, porém não intimidatório. Aos 14 anos conseguiu assumir para si mesmo que era homossexual, indo de encontro ao discurso da sua igreja de que Deus poderia fazer uma mudança na sua vida caso se concentrasse e orasse. “Vi que eu era isso e que não tinha como lutar contra, que tudo bem eu ser gay”, lembra. E parou de frequentar a igreja. “Para mim era inconcebível, na minha sexualidade, eu estar dentro da igreja, porque ela não me abarcava como ser humano, porque lá se enxerga tudo isso como pecado”, explica. Dois anos mais tarde resolveu revelar sua homossexualidade para a família. Foi um dos maiores dramas de sua vida.
A recepção deles, que, como Aly, cresceram num ambiente evangélico, foi ruim. Reagiram conforme a doutrina religiosa em torno da qual foram formados. “Para eles o que estava acontecendo era uma provação ou era uma tentação, alguma coisa que Deus tinha para provar, ou então era o inimigo [o diabo] agindo na minha vida”, relata Aly. “Eles me diziam, que eu tinha que largar disso porque não seria aceito socialmente, que não tem como ser sociável e ser homossexual”, recorda.
Leia mais: Os zines que mudaram a vida dos presos LGBT+ do Ceará
À primeira “rebeldia” do primogênito, seguiram-se outras e com elas mais conflitos com os pais. Aly queria ser independente, gostava de festas, de baladas e, por trás de sua aparente timidez, é um jovem de fala franca. Aos 18 anos saiu de casa para morar com a avó, “mais de boa”, como ele diz e que, por ter um filho homossexual, aceitava melhor a sexualidade do neto e lhe ofereceu apoio, sem nunca condená-lo ou julgá-lo. Ela, o tio e uma tia foram os únicos que conheceram o ex-namorado de Aly. “Apesar de ser evangélica e também de ter essa formação religiosa, minha avó sempre foi muito coração, muito aberta, ela que sempre resolveu as confusões da família”, diz. Ficou lá por quatro anos até tropeçar no crime.
Antes disso tentou trabalhar como vendedor numa escola de inglês, depois numa loja de roupas no shopping de Higienópolis, na região central de São Paulo. Em nenhum dois ficou mais de três meses. “Sempre foi difícil para mim me encaixar no mercado de trabalho, porque eu tive uma formação musical desde criança e sempre me enxerguei como artista”, revela.
Paralelamente à faculdade de piano na Unesp (Universidade Estadual Paulista), começou a fazer performances artísticas em festas, que envolviam dança, vestuário, expressão corporal e maquiagem. “Era quase como drag queen, sem ser uma performance de gênero, era uma coisa meio andrógina, mais diferente”, conta Aly. Com um ano de curso, largou a faculdade, enfrentou dificuldades técnicas pelo fato de ter menos tempo de prática que os demais colegas e não via perspectiva de continuar os estudos e conseguir um emprego na área.
O atalho
Ainda que morando com a avó, a relação com os pais era difícil e os conflitos continuavam. “A gente brigava muito, porque acho que de alguma forma eu sempre buscava a aceitação deles, eu queria que eles me aceitassem como eu era, como eu sou”, diz. Os motivos das discussões eram os mais variados. Desde as roupas, que Aly comprava em brechós ou na seção feminina de lojas, até sua expressão corporal. “Eu era o gay, tipo afeminado, que veste roupas estranhas, então eu me sentia muito só.”

Buscou refúgio na noite, onde se sentiu acolhido por pessoas como ele e por outros artistas. Para ficar acordado ao longo madrugada e fazer três a quatro festas num mesmo final de semana, começou a usar drogas. “Nunca fui viciado de fato, também nunca tive problemas para comprar ou problemas com minha família, porque eu nem revelava para eles.” O envolvimento com entorpecentes funcionou como ponte para o crime que cometeu, mas não foi o motivo principal. O dinheiro ofertado para realizar o serviço lhe era bastante convidativo. “Eu pensei no dinheiro e não achava que eu tinha muita coisa a perder”, diz. O pai de Aly não se conforma com a escolha, “o sucesso, o dinheiro a gente conquista gradativamente, na vida não se cortam atalhos”, diz, com a propriedade de quem perdeu o pai aos sete anos, teve uma mãe adoecida que recebia pensão de um salário mínimo e de ter, junto com seus 11 irmãos, de conquistar a confortável vida que leva hoje a partir do quase nada.

Aly tentou um atalho, mas sua vida mudou de fato quando um agente da Receita Federal apontou-lhe o caminho para a revista de bagagem, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele estava a poucos passos de chegar no saguão de desembarque. “Eu senti um frio na barriga muito grande e pensei que tinha que ficar calmo, que não podia me desesperar, eu ainda tinha alguma esperança de passar e não podia demonstrar fraqueza em nenhum momento”, lembra.
O rapaz tinha 21 anos e voltava de uma viagem à Europa, para onde fora fazer uma pequena turnê com suas performances, em festas e festivais, pela França e Alemanha. Na volta recebeu a proposta de trazer uma mala com drogas, por cujo transporte receberia R$ 15 mil. Caiu, na primeira viagem para fora do País e no seu primeiro delito. Ao passar pelo escâner, os agentes identificaram um material suspeito, levaram para análise e identificaram os entorpecentes. Aly recebeu, ainda no aeroporto, voz de prisão por tráfico internacional de drogas. Passou pela audiência de custódia e foi levado ao CDP de Pinheiros, para onde são encaminhados presos que aguardam julgamento. Por lá ficou cinco meses.
A essa altura a família dele já havia designado um advogado para o filho, o que foi fundamental para dar celeridade ao caso. Os pais, que sempre lhe disseram que se algum dia ele se metesse em “coisa errada ou se fosse preso deveria esquecê-los”, não pensaram em momento algum em cumprir a ameaça. “Pelos meus filhos, vou até o inferno”, diz a mãe, R.C.
Não foi exatamente no inferno onde ele caiu ao ser sentenciado, mas no “barraco das monas”, do CDP do Belém, cela onde, por questões de segurança, são abrigadas travestis, mulheres trans e homens gays. Segundo Márcio Zamboni, doutourando em Antropologia Social pela USP (Universidade de São Paulo) e integrante do Grupo de Trabalho “Mulher e Diversidade” da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de São Paulo, a proibição do estupro e a adoção da igualdade como um dos valores máximos da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) “trouxeram mudanças positivas para as condições de vida de indivíduos entendidos como homossexuais ou monas em prisões alinhadas com o comando”.
Códigos
Mas, no ambiente carcerário, existe um código de comportamento no qual nem sempre Aly se encaixava. “O sistema de valores que organiza a conduta das monas tem em seu centro um certo ideal de feminilidade. São valorizadas, nesse sentido, a delicadeza, a sensibilidade, a elegância, etc.”, escreve Zamboni no artigo O barraco das monas na cadeia dos coisas: notas etnográficas sobre a diversidade sexual e de gênero no sistema penitenciário, publicado na Aracê – Direitos Humanos em Revista, em 2017.

A comunidade abrigada no “barraco das monas” onde Aly se encontrava, era cobrada pelos homens presos na mesma unidade prisional a usarem vestidos, rasparem a perna, a terem um comportamento feminino, um perfil em que Aly não se encaixa. “Se você está lá dentro e você é uma bicha, é uma mona, você é relegado a um papel muito feminino. A feminilidade é quase imposta a você”, conta Aly. “Por mais que sendo gay, eu tenha essa coisa do feminino, eu me vejo como homem na sociedade”, afirma.
Mesmo franzino e cada vez mais magro, por conta da péssima qualidade das refeições ofertadas na unidade, segundo ele, Aly confrontou essas regras. “Fui muito firme, disse que não ia raspar a perna. Queriam que eu usasse roupa feminina, saias, aí eu falava que era gay, que eu não me via fazendo isso, que eu não me sentia confortável dessa forma. Por isso ouvi muitas piadas tipo de não estar nem no mundo dos homens, nem dos travestis, nem no masculino, nem no feminino, de estar como uma pessoa que não se decide, de ser um homem louco”, relata.
Entre tantos desconfortos, que iam do ambiente em si aos percevejos que teimavam em picá-lo, Aly sentia-se um privilegiado. Tinha um advogado que lhe passava serenidade e segurança, apoio da família e um jumbo (conjunto de mantimentos, vestuário, produtos de limpeza e higiene que as famílias costumam levar semanalmente aos presidiários), que ele dividia com as colegas de cela. “Eu também tinha que tomar cuidado para não parecer esnobe.”
Segundo Zamboni, na dinâmica da “cela das monas” o símbolo de status mais valorizado é justamente a manutenção de vínculos com pessoas de fora da prisão, “especialmente quando este se materializa em visitas regulares e na entrega do jumbo”. Pouquíssimas monas, relata em suas pesquisas, conseguem essa façanha e as que conseguem são simultaneamente invejadas e prestigiadas (pela contribuição maior que podem fazer para a barraca). “Essa escassez costuma ser explicada pela combinação entre os estigmas do encarceramento e da homossexualidade: se já é difícil a família aceitar um filho e dar apoio quando ele é preso, imagina quando ele ainda por cima é homossexual”, conclui.
“Sempre foram muito claros para mim os meus privilégios. No sentido de ir trabalhar fora, de ter o jumbo da minha família, de ter visita, são coisas que me beneficiavam, não necessariamente de forma material, mas emocionalmente”, lembra Aly. Por todas essas condições, muitas vezes era visto como playboy, o que é mais um fator conflitante na sua vida.
Ele não se encaixa em estereótipos do playboy do centro, tampouco no de mano da periferia. Também estava fora do perfil da maioria dos detentos do Brasil. Segundo o Depen, 64% da população carcerária do País é composta por negros e apenas 1% tem o ensino superior incompleto. “Para muitas pessoas eu era um playboy mesmo, não era daquele mundo, elas sabiam que em algum momento eu ia sair dali, que minha vida ia continuar, enquanto para muitas delas existe esse ciclo, essa lógica que a sociedade força pela exclusão, pelo racismo, pela transfobia, pelo preconceito contra pessoas que passaram pelo cárcere. Então acaba se criando um ciclo vicioso, que você sai de lá, não consegue arrumar emprego, você não consegue se recolocar na sociedade e aí seu único meio de viver muitas vezes é recorrer ao crime novamente”, explica.
Aly pouco ficou parado dentro da penitenciária. Lia muito, frequentava cultos e participou do curso Diversidade à Mesa, promovido pela Coordenadoria de Reintegração Social da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo), no qual chefes de cozinha iam uma vez por semana ensinar a comunidade LGBT+ a cozinhar. “Era muito incrível, uma das melhores coisas que me aconteceram lá, porque, além de ocupar o tempo ocioso, o projeto, voltado para travestis e gays, uniu e empoderou bastante a gente. Também era um dia em que não precisávamos comer a comida que ele nos davam, que era muito péssima”, revela Aly. Ele logo passou num processo de seleção da SAP e foi trabalhar na área de administração da própria Coordenadoria de Reintegração Social.
Foram sete meses no semiaberto até conseguir progressão para o regime aberto, que cumprirá até 2021. Contribuiu para sua saída o fato de seus pais terem lhe dado um emprego como atendente na loja de roupas, onde trabalha de segunda à sexta, das 8h às 18h. As roupas de brechó e femininas foram trocadas por indumentária social, tanto pela necessidade da função como por medo de ser julgado nas ruas pelos trajes que costumava usar.

Esse temor não é o único que trouxe para seu retorno à liberdade. Aly também receia não realizar os sonhos, teme o preconceito que pode enfrentar no mercado de trabalho real, fora do seio da família. Depois de concluir curso de modelagem que frequenta atualmente, pretende cursar faculdade de moda e retomar sua vida de artista. Seus sonhos, porém, de vez em quando esbarram nos traumas e inseguranças que trouxe do cárcere. “Se eu me sentir em risco, será que eu não posso recorrer de novo ao crime como um meio de sobreviver?”, pergunta. “Acho que isso se coloca na vida das pessoas que passaram pelo cárcere, tipo: qual é minha perspectiva daqui para frente, o que eu posso fazer para me sentir bem?”, conclui.